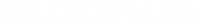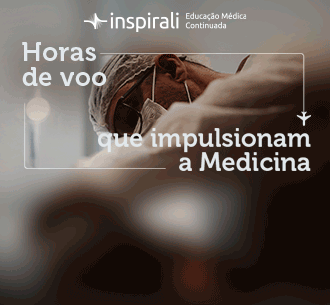Hemograma: porta de entrada para o diagnóstico da leucemia infantil
Por Abel Costa
 A incidência de câncer pediátrico é menor que nos adultos, mas o impacto é elevado; por isso, é tema prioritário da saúde pública. Na infância, quando falamos em câncer, pensamos primeiro em leucemia. Ela é o tipo mais frequente nessa faixa etária, sobretudo a leucemia linfoide aguda (LLA), seguida por tumores do sistema nervoso central e linfomas.
A incidência de câncer pediátrico é menor que nos adultos, mas o impacto é elevado; por isso, é tema prioritário da saúde pública. Na infância, quando falamos em câncer, pensamos primeiro em leucemia. Ela é o tipo mais frequente nessa faixa etária, sobretudo a leucemia linfoide aguda (LLA), seguida por tumores do sistema nervoso central e linfomas.
O ponto crucial não é apenas “quantos casos existem”, e sim quão rápido a criança chega ao diagnóstico e a um centro de referência. Onde a linha de cuidado está organizada e o acesso é garantido, as chances de cura em LLA superam 80% em muitos serviços. No Brasil, avançamos, mas ainda enfrentamos desigualdade de acesso e diagnóstico tardio — dois gargalos que o Setembro Dourado busca iluminar.
Quanto às causas do câncer infantil, a mensagem deve ser clara: na maioria dos casos não há um único fator identificável. Existem condições genéticas raras (como a síndrome de Down, entre outras) e exposições específicas que aumentam o risco (por exemplo, a benzeno), mas não há culpados na família ou no ambiente cotidiano da criança. O foco deve estar em reconhecer sinais de alerta e agir sem perda de tempo. Se, por dias ou semanas, houver palidez e cansaço, febre sem causa definida, manchas roxas ou sangramentos incomuns, infecções de repetição, dor óssea ou articular, barriga inchada (devido ao aumento do fígado e/ou baço) e ínguas, é indicada avaliação médica.
Em termos práticos, a porta de entrada que tende a encurtar a jornada é simples e conhecida: o hemograma completo. Se ele acender o alerta, realizamos o mielograma (exame da medula óssea) para confirmação. Em seguida, vêm testes que mostram o tipo exato de leucemia e suas características — incluindo os genéticos – os quais orientam o tratamento, aumentando as chances de cura. Quando necessário, avaliamos o sistema nervoso central. Ao longo do cuidado, medimos se restam sinais mínimos da doença após o início do tratamento, a chamada doença residual mínima (DRM), que ajuda a ajustar a intensidade da terapia. É um passo a passo organizado, em que cada exame responde à pergunta certa, no momento certo.
O tratamento tem como base a quimioterapia, aplicada em fases: primeiro para fazer a doença regredir, depois para consolidar o resultado e, por fim, para manter o controle. A intensidade é ajustada conforme a resposta da criança, medida pelos exames que detectam traços mínimos da doença. Aqui, tradição e inovação andam juntas: protocolos clássicos, que já salvaram muitas vidas, seguem como espinha dorsal, enquanto novas terapias ganham espaço. Em alguns subtipos — como aquele com a alteração genética Filadélfia — usamos medicações-alvo que interferem em sinais da célula doente. Se a leucemia retorna ou resiste, entram opções como a imunoterapia, por exemplo, o blinatumomabe, que ajuda o sistema imune a reconhecer a célula leucêmica e, em casos selecionados, a terapia celular CAR-T, que “treina” linfócitos T para combater a doença. O transplante de medula óssea permanece um recurso importante em situações específicas, hoje com critérios de indicação mais precisos.
As taxas de sobrevida refletem a soma de ciência e organização do cuidado. Em sistemas bem estruturados, falamos em oito em cada dez crianças curadas de LLA. No Brasil, a curva tem melhorado, mas ainda precisamos reduzir a distância entre quem acessa diagnóstico e tratamento rapidamente e quem não consegue. Isso não depende só de medicamentos novos: depende de porta de entrada eficiente, hemograma sem demora, encaminhamento ágil e equipe multiprofissional integrada. É logística de saúde — e logística salva vidas tanto quanto fármacos.
A rotina da família muda. O tratamento é uma maratona e requer planejamento: controle de sintomas, calendário de quimioterapia, prevenção de infecções, vacinação sob orientação, nutrição e atividade física ajustadas, suporte emocional e manutenção do vínculo escolar com retorno gradual. Quando todos compreendem o roteiro, a previsibilidade aumenta e a ansiedade diminui.
Quanto às novidades, dois eixos merecem destaque. Primeiro, a estratificação fina, com DRM e genômica orientando intensificação ou desescalonamento — um passo real em direção à medicina personalizada. Segundo, a expansão de terapias-alvo, imunoterapias e terapia celular (CAR-T), que deixaram de ser promessa distante e caminham para acesso mais amplo. A boa ciência não substitui o básico, mas o potencializa.
O Setembro Dourado existe para conscientizar pais, cuidadores e profissionais sobre os sinais de alerta e sobre a importância de chegar ao lugar certo, cedo. Informação bem distribuída, rede articulada e atenção primária empoderada fazem diferença concreta. O futuro é tecnológico, mas a porta de entrada segue sendo o hemograma — e a equipe preparada para agir.
*Abel Costa é onco-hematologista e sócio da startup Hemodoctor.