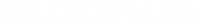Open Health: por que o futuro da saúde está além do digital
Por Marcelo Volpato
 33% dos médicos brasileiros fizeram teleconsulta, em 2022. Pelo menos é o que afirma uma pesquisa recente do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Numa escala comparativa, entre 2019 e 2022, o salto foi de 26% para 45% médicos em telessaúde. Estes e outros dados mostram o avanço da digitalização da saúde brasileira, alavancada, em grande medida, pelas necessidades impostas pela pandemia da Covid-19. Mas, será que a digitalização é suficiente para a tão sonhada transformação digital da saúde?
33% dos médicos brasileiros fizeram teleconsulta, em 2022. Pelo menos é o que afirma uma pesquisa recente do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Numa escala comparativa, entre 2019 e 2022, o salto foi de 26% para 45% médicos em telessaúde. Estes e outros dados mostram o avanço da digitalização da saúde brasileira, alavancada, em grande medida, pelas necessidades impostas pela pandemia da Covid-19. Mas, será que a digitalização é suficiente para a tão sonhada transformação digital da saúde?
Uma reflexão antecede a questão. Talvez seja algo relacionado à nominação e nomenclatura do tema, talvez seja uma questão de cunho cultural… mas é importante pensar que digitalizar processos, tão somente, não garante uma efetiva transformação digital da saúde. Implementar o uso de computadores é informatizar. Tirar o dado do papel e, pura e simplesmente, colocá-lo no computador, é digitalizar. Mas é usar apenas parte da tecnologia. Se entendida numa perspectiva integral, a transformação digital da saúde implica em rever processos, aplicações tecnológicas, aspectos culturais e ocupacionais, capacitação e inclusão de equipes e até mesmo dos pacientes — afinal, não basta um aparato tecnológico robusto que a maioria das pessoas não consegue acessar.
Digitalizar o processo para ter o dado informatizado é condição imprescindível para se avançar por uma gestão com tomada de decisões baseadas em informações técnicas e em dados. Na prática, se faltam informações e dados acessíveis, sobram opiniões relativas, o que prejudica avanços efetivos do setor. Mas, por outro lado, não basta que esse dado seja digital. Ele precisa ser compartilhável com as mais diferentes instituições envolvidas nos mais variados estágios da jornada de saúde e tratamento de um paciente.
O desafio já tem nome. Com uma nomenclatura emprestada do setor financeiro, que tem bem adiantado seu processo de integração de dados, o open health é um movimento de toda a área da saúde para centralizar, tratar, conectar e disponibilizar as informações dos pacientes brasileiros. Diferente do setor dos bancos, a saúde já traz um histórico de maior desintegração de processos e dados. Mas, apesar da amplitude do desafio, o processo já avança a passos largos, graças a uma infinidade de instituições que assumiram uma postura colaborativa e já trabalham no tema. E, ao menos aos mais engajados neste passo, tem ficado cada vez mais clara a percepção de que o papel e os processos analógicos são o principal inimigo de uma efetiva transformação digital da saúde.
O ponto é que a necessária interoperabilidade parece distante quando observamos a quase nula priorização de uma governança de dados, com indicadores confiáveis, padronizados, estruturados, centralizados, integrados e acessíveis. Apesar do Brasil se posicionar favoravelmente, neste assunto, quando comparado a outros países membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), mais esforços são necessários, inclusive: a) identificação única de pacientes; b) integração dos dados nos diferentes níveis de governo e instituições; c) treinamento de pessoal para melhoria nos procedimentos de coleta de dados; d) disponibilidade de equipamentos de TI e conectividade; e) ampliação da cobertura, além da disponibilidade e acesso aos dados; f) padronização dos dados para aumentar a comparabilidade; g) apoiar a tomada de decisão baseada em pesquisas com dados em tempo real; h) promover a capacidade de benchmarking internacional.
Iniciativa privada e pública, grandes empresas e healthtechs unem esforços para acelerar a longa marcha da inovação na saúde. E é claro que urge esta governança na gestão de dados, em sua maioria, classificados como sensíveis, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O governo deve(ria) assumir um papel primordial rumo à interoperabilidade e ao open health. Mas, como aconteceu no setor financeiro, com o Banco Central liderando regulamentações para implementar a base estrutural do open banking e open finance, que instituição deveria assumir tal papel na saúde? Fundamental, no entanto, a pergunta segue sem resposta.
As healthtechs podem ser as grandes propulsoras da aplicação da inovação na área da saúde. São plataformas tecnológicas com uma enormidade de finalidades e escopos de atuação, dos prontuários eletrônicos aos sistemas de gestão, telemedicina, acesso à saúde, medical devices e até inteligência artificial. Segundo o Distrito, o valor de investimento nas startups de saúde de 2020 até 2022 representa mais de 70% do total investido em toda a última década. E este interesse no empreendedorismo na saúde tem destino certo: o setor é um dos que mais clamam por inovação — e a pandemia mostrou a olhos bem vistos a urgência da transformação digital na saúde.
Mas o contexto da saúde brasileira chega a uma complexidade tamanha que o rápido e necessário avanço na interoperabilidade de todo o setor caminha entre controvérsias. E, assim, a inovação das healthtechs, que poderia ser a grande alavanca para disruptar o sistema, vai se definhando a cada barreira infraestrutural, legal, regulatória, gerencial e etc. Por aí, já se pode mensurar indicativos sobre a inexistência de um unicórnio na saúde brasileira. Além disso, a falta de cooperação interinstitucional tradicional no setor torna-se o arremate final do entrave. O que falta, então?
Apesar dos paradoxos, até normais em processos transformacionais de setores tão complexos, fica a torcida para que ventos prósperos soprem à vela da saúde digital em 2023. E que o grande vencedor de tudo isso seja, de fato, o paciente, premiado, ao final, com mais praticidade, mais segurança e, consequentemente, maior acesso à saúde.
*Marcelo Volpato é consultor e doutor em comunicação e há 20 anos empreende em projetos de comunicação corporativa, branding, marketing e PR