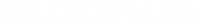Diagnóstico neurológico: quando o CEP define o tempo de espera
Por Daniele de Mari
 Se você acordasse hoje com uma suspeita de epilepsia, quanto tempo levaria até obter um diagnóstico preciso? No Brasil, essa resposta varia tanto quanto o CEP. Em grandes centros urbanos, com hospitais de referência e maior concentração de especialistas, o processo pode durar poucas semanas. Em regiões com infraestrutura limitada, o tempo se estende por meses. Em muitos casos, o exame nem chega a ser feito.
Se você acordasse hoje com uma suspeita de epilepsia, quanto tempo levaria até obter um diagnóstico preciso? No Brasil, essa resposta varia tanto quanto o CEP. Em grandes centros urbanos, com hospitais de referência e maior concentração de especialistas, o processo pode durar poucas semanas. Em regiões com infraestrutura limitada, o tempo se estende por meses. Em muitos casos, o exame nem chega a ser feito.
Essa desigualdade revela mais do que um problema de acesso. É um sintoma do atraso tecnológico da neurofisiologia, área da medicina que estuda o sistema nervoso por meio de exames como o eletroencefalograma (EEG), polissonografia, potenciais evocados, monitorização intraoperatória, eletromiografia (EMG) e eletroneuromiografia (ENMG). Mesmo com avanços em outras áreas da saúde, esse campo segue preso a soluções ultrapassadas, ausência de padronização e escassez de profissionais.
Distúrbios neurológicos afetam hoje 3,4 bilhões de pessoas no mundo, de acordo com estudo publicado pela revista The Lancet Neurology, em 2024. Isso equivale a 47% da população global. Esses distúrbios são a principal causa de deficiência e uma das maiores de mortalidade. Ainda assim, os métodos de diagnóstico seguem defasados.
A inteligência artificial tem potencial para transformar esse cenário. Em áreas como radiologia e cardiologia, algoritmos já complementam o trabalho humano em tarefas específicas. Na neurofisiologia, porém, os desafios são maiores. A principal barreira é a falta de padronização dos dados: diferentes equipamentos captam sinais de EEG de maneiras distintas, e os laudos variam conforme a interpretação do especialista. Soma-se a isso a ausência de uma
infraestrutura semelhante ao PACS, já consolidado na radiologia, que centraliza informações e favorece interpretações consistentes.
No entanto, treinar um sistema automatizado confiável exige exatamente o que falta na realidade da neurofisiologia: dados consistentes, padronizados e rotulados de forma uniforme. Hoje, o setor é marcado por uma fragmentação técnica que dificulta esse avanço.
Equipamentos distintos geram registros incompatíveis, e a análise dos exames ainda depende, em grande parte, da interpretação subjetiva de cada especialista.
Isso porque, mesmo entre médicos experientes, há divergências na leitura de eventos como crises epilépticas. Segundo um artigo publicado na MedRixv em 2024, a concordância entre especialistas gira em torno de 67%. Então, como esperar que um sistema automatizado alcance 90% de precisão se nem os humanos chegam a esse patamar? O problema, portanto, não está apenas na ausência de tecnologia, mas na necessidade de reestruturar todo o processo, desde a coleta até a análise das informações.
É necessário criar bancos de dados amplos e representativos, que incluam não apenas diferentes condições clínicas, mas situações reais de coleta — como exames feitos em unidades de terapia intensiva, com ruídos e interferências. É nesse ambiente imperfeito que os sistemas automatizados precisam aprender a operar.
Nos próximos anos, a expectativa é que a inteligência artificial avance no diagnóstico de distúrbios do sono, epilepsia, Alzheimer, autismo e TDAH. Mas, para que essas soluções saiam do papel e cheguem à rotina dos hospitais, será preciso estimular parcerias entre o setor público e o privado e, acima de tudo, tratar a saúde digital como parte da infraestrutura essencial do país. Sem isso, o cenário seguirá desigual: diagnósticos rápidos nos grandes centros e meses de espera nas regiões mais afastadas.
A tecnologia pode, sim, reduzir distâncias, mas apenas se for planejada para todos os CEPs, não só para os que já concentram os melhores recursos. A neurofisiologia pode evoluir, mas isso exige visão estratégica. A inteligência artificial, sozinha, não resolve um problema que é antes de tudo estrutural.
A urgência é real, e o caminho, inevitável. Onde há um cérebro sem resposta, há também uma janela de tempo que o sistema de saúde não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar.
*Daniele de Mari é CEO e Co-fundadora da Neurogram.