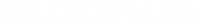O alinhamento de incentivos entre operadoras e prestadores de saúde
Por Vagner Fujita
 Muito se fala em alinhamento de incentivos entre operadoras de planos de saúde e prestadores assistenciais. A premissa é criar mecanismos que promovam eficiência, previsibilidade de custos e sustentabilidade do sistema. Na prática, porém, o setor ainda convive com um desalinhamento estrutural relevante — e seus efeitos recaem, de forma direta, sobre o beneficiário.
Muito se fala em alinhamento de incentivos entre operadoras de planos de saúde e prestadores assistenciais. A premissa é criar mecanismos que promovam eficiência, previsibilidade de custos e sustentabilidade do sistema. Na prática, porém, o setor ainda convive com um desalinhamento estrutural relevante — e seus efeitos recaem, de forma direta, sobre o beneficiário.
Nesse arranjo, o beneficiário acaba funcionando como o ponto de acomodação do conflito: quando os incentivos econômicos não se alinham entre quem paga e quem presta, é sobre o acesso, a cobertura e a experiência do paciente que o sistema se ajusta.
As alavancas econômicas de cada elo são distintas. Hospitais tendem a crescer por meio do aumento da taxa de ocupação de leitos, da maior complexidade assistencial e da elevação do custo unitário de procedimentos cirúrgicos. Laboratórios ampliam receita a partir do volume de exames e do valor unitário dos serviços. Já as operadoras dependem do controle da sinistralidade, da previsibilidade do custo médico e da disciplina econômico-financeira. Esses vetores não são naturalmente convergentes.
O limite prático dos modelos de remuneração
As tentativas de alinhamento costumam passar por modelos alternativos ao fee for service. Ainda assim, a realidade do setor mostra que esse modelo permanece predominante. Dados do Painel Econômico-Financeiro da ANS indicam que 63,66% das contas médicas ainda são remuneradas por fee for service, o que ajuda a explicar por que o incentivo a volume segue estruturalmente presente.
Essa predominância não decorre de inação isolada das operadoras, mas de um desenho histórico do setor, no qual a migração para modelos prospectivos depende de maturidade clínica, padronização de dados e governança compartilhada — condições que nem sempre estão disponíveis de forma homogênea. Em estruturas verticalizadas, parte desse efeito é amortecida. Em operadoras não verticalizadas, o alinhamento precisa ser construído por contrato, o que amplia as fricções.
Com frequência, o debate escorrega para temas operacionais: escopo de cobertura, itens fora de pacotes, intercorrências, materiais, pertinência clínica, codificação e parametrizações. Esse atrito raramente é percebido como um problema estrutural. Para o beneficiário, ele se manifesta como fricção no acesso: mais autorizações, mais negativas e maior incerteza, mesmo quando o conflito real está nos bastidores econômico-contratuais do sistema.
Resultados financeiros, prazo e o efeito do floating
Nos últimos trimestres, as operadoras vêm apresentando melhora de resultados. No primeiro semestre de 2025, o setor registrou lucro líquido de R$ 12,9 bilhões, sendo R$ 6,8 bilhões provenientes do resultado financeiro e R$ 6,3 bilhões do resultado operacional. Na prática, 52,7% do resultado líquido do período teve origem financeira.
Esse dado não indica substituição da atividade assistencial por receitas financeiras, mas reflete o impacto do ambiente macroeconômico — especialmente de juros elevados — sobre a estrutura de resultados do setor. É nesse contexto que o floating deve ser compreendido. Quando a arrecadação das mensalidades ocorre em ciclos mais curtos do que o pagamento da cadeia assistencial, parte dos recursos permanece temporariamente em caixa. Em um ambiente de juros altos, esse intervalo gera rendimento financeiro e passa a compor o resultado das operadoras.
Do lado dos prestadores, esse efeito se traduz em pressão de caixa. Como exemplo público e auditável, a Rede D’Or reportou prazo médio de recebimento de 116 dias no segundo trimestre de 2025, segundo seu relatório de fluxo de caixa gerencial. Trata-se de um dado ilustrativo, não representativo de todo o setor, mas que evidencia a assimetria estrutural entre os ciclos financeiros de pagadores e prestadores.
Downgrade de planos, cobertura e perda de alcance assistencial
O número de beneficiários segue elevado, com crescimento moderado. O movimento mais relevante, porém, está no downgrade dos planos, especialmente do ponto de vista de cobertura e desenho de rede.
Redes mais restritas reduzem o alcance de parte dos prestadores dentro do universo total de beneficiários. Hospitais e clínicas que antes acessavam uma fatia maior da população passam a disputar volume em subconjuntos menores de vidas cobertas, sobretudo em redes de maior complexidade e em determinados mercados. O efeito econômico é direto: menor previsibilidade de demanda e maior pressão competitiva.
Para o beneficiário, isso se traduz em menor liberdade de escolha, maior direcionamento e aumento da fricção no acesso — novamente como reflexo de um ajuste sistêmico que ocorre longe da sua percepção direta.
O ponto central: a qualidade da base de sinistros
O debate sobre alinhamento de incentivos costuma começar pela forma de pagamento. Mas ele deveria começar antes: pela qualidade da base de sinistros.
Uma parcela relevante do custo assistencial não está associada a cuidado necessário, mas a fraudes, abusos, desperdícios e ineficiências operacionais, além de distorções de codificação de procedimentos e do uso de tabelas próprias.
Fraudes e abusos configuram desvios evidentes. A codificação e as tabelas próprias, por sua vez, são instrumentos legítimos de precificação e gestão, amplamente utilizados no setor. O problema surge quando esses instrumentos são mal calibrados, pouco transparentes ou não padronizados, gerando distorções econômicas relevantes — ainda que sem qualquer ilicitude.
Enquanto essas distorções permanecerem na base, qualquer modelo de remuneração apenas redistribui um problema estrutural. O conflito muda de forma, mas não desaparece. Esse ponto se torna ainda mais crítico diante do crescimento das terapias e dos medicamentos de alto custo, que já pressionam naturalmente a sinistralidade. Quando esses custos se somam a uma base contaminada, a sustentabilidade de qualquer arranjo contratual fica comprometida.
Conclusão: a hierarquia correta das ações
O alinhamento de incentivos entre operadoras e prestadores não começa na negociação contratual nem na escolha do modelo de remuneração. Ele exige uma hierarquia clara de ações.
Primeiro, o saneamento da base de sinistros, com foco na redução de fraudes, abusos, desperdícios e distorções de codificação. Em seguida, a padronização e a governança do custo assistencial, criando transparência, comparabilidade e previsibilidade. Somente então faz sentido discutir modelos de remuneração e compartilhamento de risco, agora sobre uma base mais limpa.
Essa hierarquia não é simples de executar nem isenta de conflitos regulatórios e operacionais. Ainda assim, ela é condição necessária para que o setor deixe de discutir diferentes formas de pagar a mesma conta inflada. Sem isso, o beneficiário continuará sendo o elo que absorve o desalinhamento entre operadoras e prestadores.
*Vagner Fujita é CEO da id.health.