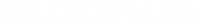O consentimento informado como núcleo de segurança jurídica
Por Gabrielle Chalita e Wagner Pozzer
 O consentimento informado representa, na atualidade, um dos pilares da relação médico-paciente, configurando um instrumento ético, jurídico e clínico indispensável.
O consentimento informado representa, na atualidade, um dos pilares da relação médico-paciente, configurando um instrumento ético, jurídico e clínico indispensável.
Sua exigência transcende a formalidade documental: corresponde a expressão da autonomia do paciente e da obrigação do profissional de saúde de informar, esclarecer e obter anuência consciente do paciente sobre o procedimento proposto.
A despeito de sua centralidade, trata-se de um dos temas que mais suscitam dúvidas no cotidiano médico, tanto por sua aplicação recorrente quanto pela complexidade de seus desdobramentos jurídicos.
Do ponto de vista normativo, o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018) estabelece, em diversos dispositivos, a obrigatoriedade de prestar informações claras, completas e adequadas ao paciente, bem como de obter seu consentimento prévio para intervenções diagnósticas ou terapêuticas.
 A legislação infraconstitucional também tutela esse dever, especialmente por meio do Código Civil (arts. 186 e 927) e da jurisprudência, que reconhece a falha na informação como causa autônoma de responsabilização civil, ainda que não tenha havido erro técnico na conduta médica.
A legislação infraconstitucional também tutela esse dever, especialmente por meio do Código Civil (arts. 186 e 927) e da jurisprudência, que reconhece a falha na informação como causa autônoma de responsabilização civil, ainda que não tenha havido erro técnico na conduta médica.
A essência do consentimento informado está na comunicação: exige que o médico explique, de forma compreensível, os objetivos do procedimento, os riscos envolvidos, as alternativas terapêuticas existentes, as consequências da não realização e os potenciais efeitos colaterais.
Não basta, portanto, a entrega de um formulário padrão; é necessário que a informação seja personalizada, levando em conta a condição clínica, o grau de compreensão e a situação concreta do paciente. A ausência desse diálogo transforma o documento em instrumento meramente defensivo, incapaz de cumprir sua função protetiva e de fortalecer a confiança entre as partes.
A jurisprudência brasileira tem reiterado que o consentimento informado deve ser visto como um processo, e não como um ato isolado. Isso significa que o esclarecimento deve ser contínuo, com reavaliações sempre que houver mudança na conduta clínica, novos riscos identificados ou recusa parcial do paciente.
A formalização por escrito, embora recomendável, não substitui o dever de informação verbal. Diversos tribunais têm responsabilizado médicos e instituições mesmo diante de termos assinados, quando há omissão no esclarecimento efetivo dos riscos e alternativas.
Dentre as dúvidas mais recorrentes dos profissionais estão: em quais situações o termo escrito é obrigatório? O consentimento verbal é suficiente? Como proceder diante da recusa do paciente, sobretudo em contextos de risco à vida?
Essas perguntas decorrem de um cenário em que as exigências legais nem sempre são expressas de forma taxativa, exigindo do médico não apenas prudência, mas também registro adequado de sua conduta. É nesse ponto que a interdisciplinaridade entre direito e medicina se revela fundamental para uma atuação segura.
A recusa informada, inclusive, configura desdobramento direto do consentimento. Se o paciente, devidamente esclarecido, decide recusar o tratamento proposto, sua decisão deve ser respeitada, salvo nas hipóteses legais de intervenção compulsória.
O médico, por sua vez, deve registrar com precisão os elementos que comprovam o esclarecimento prestado e a manifestação de vontade do paciente. A ausência desse registro poderá ensejar questionamentos futuros, sobretudo em ações de responsabilização civil ou em sindicâncias ético-profissionais.
Outro ponto crítico reside nos atendimentos de urgência.
Nesses casos, a legislação brasileira admite a relativização do consentimento, autorizando o médico a intervir sem autorização expressa quando há risco iminente à vida ou à integridade do paciente, e este se encontra incapacitado de decidir. Ainda assim, a medida deve ser proporcional, estritamente necessária e posteriormente documentada.
Quando há acompanhante ou familiar presente, o dever de esclarecimento permanece, ainda que o tempo disponível seja exíguo.
A prática médica contemporânea também exige atenção ao consentimento em contextos específicos, como pesquisas clínicas, procedimentos estéticos, intervenções em menores, incapazes, e em pacientes sob tutela judicial.
Cada uma dessas situações exige cuidados redobrados quanto à linguagem utilizada, à extensão das informações e à documentação de sua recepção. O erro mais comum é presumir a validade genérica de um modelo padronizado de consentimento, sem adaptá-lo às peculiaridades do ato médico realizado.
Do ponto de vista institucional, hospitais, clínicas e operadoras de saúde têm responsabilidade solidária quando falham na organização e supervisão dos fluxos de consentimento. A ausência de protocolo padronizado, o uso de modelos obsoletos ou a falta de capacitação dos profissionais expõem a instituição a riscos jurídicos significativos. Assim, o consentimento informado não é apenas obrigação do médico, mas também dever organizacional, vinculado ao dever geral de cautela na prestação de serviços médicos.
Por fim, é preciso reconhecer que o consentimento informado não se limita à prevenção de litígios. Trata-se de um instrumento de valorização da dignidade do paciente, de promoção da medicina centrada na pessoa e de qualificação da prática clínica.
Médicos bem-informados e instituições comprometidas com uma comunicação efetiva reduzem conflitos, fortalecem a confiança e oferecem um atendimento mais humanizado. Ao transformar o consentimento em processo contínuo e documentado, reafirma-se o compromisso ético da medicina com a autonomia, a transparência e a segurança jurídica.
*Gabrielle Chalita é advogada especialista em Direito Administrativo do escritório Rubens Naves Santos Jr e Wagner Pozzer é advogado especialista em Direito Processual Civil do escritório Rubens Naves Santos Jr Advogados.